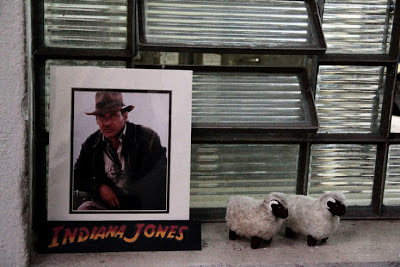Bruno Ribeiro
Filtrada pelos vidros
empoeirados das janelas, a luz da manhã é pálida – de uma palidez de fotografia
antiga – e escorre dos vãos entre as telhas, em filetes que conferem ao galpão
um interessante efeito cênico. Neste cenário, que poderia ter saído de um filme
sobre os primórdios da revolução industrial, dezenas de operários trabalham em
meio ao vapor das máquinas e aos sons do entrechoque de ferros.
O cheiro do ambiente é
carregado, mas não desagradável. Há no ar uma mistura de lã de ovelha, madeira
velha, umidade e ferrugem. “É o cheiro do tempo”, diz Antônio Máximo Alves, 66
anos, há 27 como moldador de chapéus. “Hoje faço 350 moldes por dia, mas já
cheguei a fazer 600”, relembra. “Na minha juventude, todo homem tinha o seu
chapéu. Ninguém saía de casa sem ele”.
Antônio, que trabalha
como fotógrafo de casamento nos fins de semana, é um dos funcionários mais
antigos do lugar depois que os mais velhos – alguns com mais de 50 anos de
fábrica –, tiveram de se aposentar ou ser demitidos. “Demissão aqui sempre foi
coisa rara”, comenta, confirmando os rumores de que uma grande mudança está por
vir.
Estamos em Campinas,
mais especificamente na Rua Barão Geraldo de Resende, n ° 142, no bairro Guanabara,
onde está localizada a quase centenária Fábrica de Chapéus Cury, com seus 5,3
mil metros quadrados a ocupar praticamente um quarteirão inteiro – não fosse a
presença de um botequim de esquina onde os operários costumam tomar o café da
manhã antes de pegar no batente.
Mundialmente famosa por
ter criado o chapéu que o ator Harrison Ford imortalizou nos filmes da série “Indiana
Jones”, a Cury é vista pelos campineiros sob um prisma local e mais relevante:
ela é a memória viva do tempo em que a cidade apenas começava a desenvolver a
sua indústria.
Com mais de um milhão
de habitantes e conhecida por seu polo industrial e tecnológico, Campinas é a
maior cidade do interior de São Paulo. Por isso, surpreende que uma fábrica
como a Cury ainda exista, na base da produção artesanal e abastecida por uma
caldeira, como no início do século passado.
Para tentar descobrir o
segredo desta longevidade, pergunto a Paulo Cury Zakia, 54 anos, diretor
comercial da empresa: “Como, afinal, a fábrica sobreviveu ao tempo, à
modernização, à concorrência, às sucessivas crises econômicas, à especulação
imobiliária e ao fim do chapéu como item obrigatório no vestuário do
brasileiro?”.
Em sua resposta, dá-me
em primeira mão a notícia inesperada: “Sobrevivemos graças à força de vontade e
ao idealismo; mas não dá mais para continuarmos presos ao passado”, anuncia
desde seu amplo escritório situado no segundo andar do prédio. Até o fim de
2012, a antiga sede da Fábrica de Chapéus Cury estará desativada e seu destino
será idêntico ao de outros tantos imóveis com valor histórico e cultural que
desapareceram em Campinas: o chão.
Ele ressalta, no entanto,
que a demolição do prédio datado de 1920 não significará a morte da Fábrica de
Chapéus Cury. “Estamos transferindo nossas instalações para um local moderno e
mais adequado, na cidade de Jaguariúna”. A mudança, segundo o diretor, era
imperativa. “Temos de ser mais competitivos ou seremos engolidos”, justifica.
“Até hoje, nos mantivemos heroicamente, assumindo riscos e prejuízos em
benefício dos funcionários. Mas um empresário tem de ser racional”, argumenta.
O diretor comercial
prefere não dizer o que será construído na área ocupada pela fábrica. “Não
gostaria de revelar agora, para não atrapalhar o negócio”, diz. Seu plano
imediato, após a demolição, é publicar um livro de fotografias e poemas
dedicados à Cury. “É uma forma de preservar as lembranças deste lugar e de tudo
o que ele representou para a cidade”, explica. Material há de sobra: ao longo
de sua história, dezenas de ensaios fotográficos foram realizados no interior
da fábrica.
Do alto de seus 88
anos, dos quais 70 dedicados à chapelaria, o presidente Sérgio Cury Zakia, tio
de Paulo, não guarda segredos quanto à mudança de rumo: “A especulação
imobiliária é muito forte e agressiva. É impossível não ceder. Vão construir edifícios
aqui, vários”, revela.
Sugiro uma última
caminhada com o presidente pelas galerias da fábrica. Ele apanha o inseparável
chapéu de feltro marrom sobre a mesa de seu gabinete e apoia-se em meu braço para
descer a longa fileira de escadas. No trajeto, cumprimenta os operários. Ele os
conhece todos pelos nomes. No ano passado, eram 130. Hoje, apenas 69. “No auge
da nossa produção, entre as décadas de 1940 e 1960, chegamos a ter 800
funcionários contratados”, recorda Sérgio.
As recentes demissões
não parecem ter sido uma decisão fácil. “Alguns dos demitidos eram meus amigos;
íamos caçar e jogar futebol quando não éramos tão velhos”, comenta, com um
sorriso discreto. De fato, muitos dos funcionários remanescentes têm mais de 20,
25 anos de carteira assinada. “As pessoas entravam para trabalhar comigo e iam
ficando. Nunca tive o costume de demitir o pessoal”, diz.
Para o velho Zakia, a
culpa não é só da especulação imobiliária. É também dos chineses: “Eles estão
comprando todo o pelo de lebre que há no mundo – e este era a nossa principal
matéria-prima. O pelo de lebre sumiu do mercado e estamos tendo que nos adaptar
e reinventar nossos produtos. Agora, somos obrigados a usar quase que
exclusivamente a lã para fabricar os chapéus, mas não é a mesma coisa”,
lamenta.
Sérgio Cury Zakia é
filho de libaneses. O avô era gerente de uma fábrica de tecidos no Líbano e foi
o primeiro membro da família a vir para o Brasil, em 1904. Embarcou na terceira
classe de um navio e desceu no porto de Santos, em busca de uma vida melhor.
Quatro anos depois, enviou dinheiro para que os filhos pudessem se juntar a ele.
O pai de Sérgio se estabeleceu em Itu – onde ele nasceria a 25 de fevereiro de
1924. “Eu tinha nove anos quando papai me disse: ‘Sérgio, o mercado de chapéus
é o futuro; vamos para Campinas trabalhar na fábrica do Dr. Miguel. Isso foi em
1934”.

Dr. Miguel era Miguel
Vicente Cury, um caixeiro de loja que se tornou duas vezes prefeito de Campinas
(1948 a 1951 e 1960 a 1963) e hoje dá nome ao viaduto mais importante da
cidade. “Ele era meu tio, irmão da minha mãe. O que mais gostava de fazer na
vida era reformar e vender chapéu. Nem ele sabia por que gostava tanto de
chapéu. Acabou comprando a fábrica, a preço de banana, de uns alemães que estavam
fugindo do Brasil”, conta Sérgio.
Miguel Vicente Cury
fundou a Fábrica de Chapéus Cury em 1920, sem imaginar que ela se tornaria uma
das mais importantes do País e da América Latina. “Quando comecei a trabalhar
aqui, aos 18 anos, ela já era uma empresa respeitada, que produzia e exportava
chapéus. Meu pai e eu tivemos que aprender a fazer um pouco de tudo, porque meu
tio era muito exigente. Mas, como nunca aprendi a lidar com mecânica, acabei assumindo
a parte administrativa”, lembra.
No decorrer dos anos, a
empresa foi aumentando sua produção e adquirindo máquinas mais modernas,
provenientes da Europa. Quando o chapéu começou a cair em desuso nas grandes
cidades brasileiras, a Cury passou a investir pesado no mercado externo. Hoje,
30% da produção são destinados à exportação, tendo nos Estados Unidos e na
Bolívia seus maiores compradores. “O que não significa que o brasileiro tenha
deixado de usar o chapéu”, destaca Paulo Cury. “Nossos grandes clientes estão
no Sul e no Nordeste. O gaúcho e o nordestino ainda usam bastante os modelos
tradicionais; já em Goiás e Mato Grosso vendemos mais o modelo country”.

Os números da empresa
desmentem a tese de que não há mais mercado para o chapéu: por mês, a Cury
produz entre 20 e 25 mil chapéus. Em 2010, faturou 30 milhões de reais. “O
segredo está em ir se adaptando ao gosto do consumidor, que muda com o tempo”,
explica o diretor comercial, cuja expectativa é ampliar ainda mais esta cifra a
partir da mudança para a nova sede, em Jaguariúna.
Paulo Zakia não sabe
dizer o que virá pela frente. A única certeza é que um dos chapéus mais famosos
do mundo, fabricado por ele, continuará sendo a “menina dos olhos” da Cury.
“Quando os filmes do Indiana Jones voltam a ser comentados, as vendas deste
modelo sobem”, afirma. Ele se refere ao modelo de chapéu criado especialmente
para o personagem principal do filme “Indiana Jones e os Caçadores da Arca
Perdida” (1981), que se tornou um clássico do cinema.
“Um de meus clientes
nos Estados Unidos era patrocinador do filme e me pediu que criasse um chapéu
para um herói de aventura. Ele descreveu o personagem, mas não disse que o ator
seria o Harrison Ford e nem que o filme seria aquele. Só descobri quando fui ao
cinema e vi o meu chapéu na tela”, relembra. De lá para cá, a Cury fabricou
aproximadamente 500 mil unidades do modelo Indiana Jones – com licença para
importá-lo a vários países.
Nadir Furlan,
subencarregada do setor de costura, orgulha-se de trabalhar na “fábrica do chapéu
do Indiana Jones”. Segundo ela, é assim que muita gente identifica a Cury. “Eu
sei que ela não é só isso. Essa é apenas uma parte da história. Mas também é a
parte que fez a gente ficar conhecido no mundo todo, não é?”. Atento para o
fato de a costureira se referir à empresa como “a gente”. Pergunto o que a Cury
representa para ela. “Eu costumo dizer que isso aqui é a minha segunda
família”, diz.
Nadir começou a
trabalhar na fábrica em 1982 e nunca pensou em sair. Duas de suas irmãs trabalham
com ela, mas em setores distintos. “Eu sempre fui costureira. Já cheguei a
costurar dois mil chapéus por dia, hoje são cerca de 800”. Lembra que o número
de costureiras também foi bem maior. “Há dois anos, havia 50 mulheres pedalando
as máquinas. Hoje somos onze. É que costureira é uma profissão em extinção”, avalia.
Nadir acredita que
sentirá falta do prédio em que trabalha há tantos anos. “Eu seria capaz de
andar de olhos vendados aqui dentro. Conheço cada canto”. Ao mesmo tempo,
manifesta interesse e curiosidade pelo novo. “Se for para o bem de todos e eles
quiserem continuar contando comigo, por que não?”.
Antônio Máximo, o
moldador de chapéus, não sabe se será aproveitado na nova fase da empresa.
“Enquanto não me mandarem embora, continuarei trabalhando, porque gosto muito.
E se tiver que ir para outro lugar, tudo bem. A gente tem que trabalhar de
qualquer forma. É a vida”, diz.
Ao meio-dia em ponto,
soa o apito da chaminé de tijolos – o único elemento, junto à fachada do
prédio, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de
Campinas (Condepacc). A chaminé sobreviverá à demolição.
Para os operários que
restaram, este talvez seja o último horário de almoço na velha Fábrica de
Chápeus Cury. Ou o primeiro dos últimos, antes que sejam transferidos para a
nova sede ou voltem em definitivo para suas casas. O desaparecimento do imóvel
não será o fim do mundo; mas certamente marcará o fim de um mundo cada vez mais
raro e distante.
(Reportagem originalmente publicada na revista Brasileiros (Novembro/2012), com fotos de Adriano Rosa. No blog a maioria das fotos pertence a Heleno Clemente.)